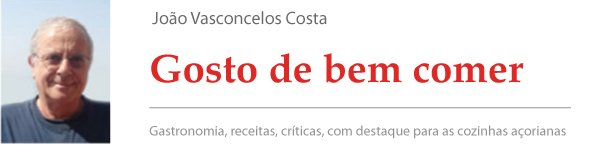Isto hoje evoca-me amigos. Um deles passou por tempos em que, solitário, pouco mais lhe apetecia do que abrir uma lata de atum para o jantar. Uma merceeira amiga e com pena deu-lhe a conhecer o atum Santa Catarina, dos Açores. Do sacrifício da conserva, passou ao gosto de excelente acepipe.
Outro amigo meu viu em qualquer sítio que o LIDL vendia com a marca NiXe atum anunciado como açoriano e ofereceu-me uma lata (de peso invulgar, 1 Kg de peso líquido). Lembro-me também de um “post” de blogue que dizia o mesmo, mas agora não o consigo localizar. É possível que tenha sido assim no passado, mas o atum que me veio do LIDL é de origem catalã.
Já houve tempos em que isto seria importante, pela dificuldade de obter no continente atum açoriano. E vale a pena? Estou certo de que sim. É que nem é a tal coisa subjectiva (ou publicitária) do “melhor do mundo”, é questão de diferença consensual. Por exemplo, é objectivo que o atum açoriano é vendido logo nos seus mares aos navios-fábrica japoneses, país onde vivem os considerados maiores e mais conhecedores apreciadores de atum.
Com a mesma classificação de género, há espécies diferentes de peixe. Deixemos por um minuto o atum. Já referi porque é que qualquer pessoa de gosto nem sequer obrigatoriamente muito apurado distingue o excelente chicharrinho açoriano do seu irmão carapau continental. São espécies diferentes. No continente, o carapau vulgar é o Trachurus trachurus, branco. O carapau das ilhas é o azulado, Trachurus picturatus, com sabor claramente diferente. Os pescadores continentais conhecem-no como carapau negrão ou carapau do alto, mas não era vulgar vendê-lo. Ultimamente, vê-se esta espécie à venda como “carapau azul”. É pena que muito grande, comparado com os “charrinhos” açorianos.
Da mesma forma, o atum, com muitas variantes todas pertencentes ao género Thunnus, com diversas espécies, mas principalmente com diferenças de qualidade relacionadas com o habitat físico e biológico. O atum mais pescado, nomeadamente no Atlântico e no Mediterrâneo, é o rabilo (assim dito nos Açores), rabilho (no Algarve) ou “bluefin” (T. thynnus), também pescado nos Açores. O atum açoriano reparte-se também entre outras espécies, nomeadamente o muito apreciado patudo (T. obesus), considerado o melhor para “sashimi” e o atum voador (T. alalunga).
É principalmente este último, o atum branco, que se pesca nos Açores e a que se chama lá o atum albacora (que não é a mesma espécie que o T. albacares, tropical, "albacore" em inglês ou “yellowfin”, que não existe nos Açores). É o atum açoriano mais conhecido e de melhor qualidade, aquele que os navios japoneses compram no mar alto às traineiras açorianas. É a sua característica de voador que permite a pesca tradicional de “salto e vara”, com isco vivo de peixes pequenos (daí a falta de uso vulgar da sardinha, desviada para isco para o atum). Ao contrário, por exemplo, do Algarve, nunca se pescou atum nos Açores por cerco. Diferença importante é que a pesca de salto e vara é totalmente sustentável biologicamente, ao contrário da pesca de rede, lesiva até para golfinhos.
Passando às conservas, discuta-se os seus tipos. A forma tradicional de enlatar o atum é em flocos, comprimidos na lata. A maior relação entre peso e volume torna esta produção mais atraente para um consumo familiar. Sucedeu-lhe o atum em posta, mas ainda facilmente lascável e, mais modernamente, os filetes de atum, que mantêm a textura original da carne.
Quanto ao líquido, pode ser, como tradicionalmente na maior parte das nossas conservas, um qualquer óleo alimentar, mais recentemente, e por moda do dito, o azeite e, último método, a simples água. Neste caso, como um tipo de conservas da fábrica de S. Catarina (e também da Cofaco – ver adiante), até pode ser conserva em água, embalada em frasco de vidro. A todos títulos excelente!
Até há poucas décadas, era difícil encontrar atum dos Açores no continente. De vez em quando, mas com irregularidade, via à venda conservas Corretora, a empresa de conservas mais importante dos meus tempos de criança – até com uma gama muito diversificada e inovadora, que passava por legumes, almôndegas e pequenos hambúrgueres, muito bem temperados com pimenta e noz moscada, que faziam as minhas delícias.
Uma conserva característica da Corretora, que se vende cá nos hipermercados, é a de atum temperado, muito bom como base de pasta para aperitivos ou para barrar sandes. Se quiserem fazer a vossa própria base, partam de atum, cebola, tomate, pimento, malagueta e açaflor (comprem numa das lojas açorianas; não substituam por curcuma, o açafrão amarelo, indiano) e vão adiante segundo o vosso gosto e imaginação.
Por volta do 25 de Abril, formou-se nos Açores uma grande empresa conserveira, a Cofaco. A partir daí, ou pelo menos na última dúzia de anos, deixou de ser difícil encontrar atum dos Açores (embora, para mim, seja o menos bom dos que conheço): com marca Bom Petisco, está em todos os supermercados. A Cofaco também outra marca, Pitéu, mas de conservas de outros peixes ou de atum não açoriano.
Finalmente, a minha preferida, Santa Catarina, antes uma pequena fábrica em S. Jorge, agora com cada vez maior sucesso. Para mim, as melhores conservas açorianas, mas admito que é questão de gosto pessoal. Muito menos vou dizer que são as melhores do mundo. Começaram por se vender nas lojas dos Açores em Lisboa mas hoje já as vejo com presença permanente em todas as grandes superfícies.
Da gama variada da Santa Catarina destaco a conserva de ventresca. Com o senão de não ser nada barata (cerca de 3,7 € por 120 g líquidos), é a maior delícia de entre os atuns, nomeadamente os atuns açorianos. A ventresca é o nome da barriga do atum, a parte mais nobre e rica, que se desfaz em lascas firmes. Tem cor rosa pálido e sabor muito suave. Com o nome de “toro”, é a parte do atum mais apreciada no Japão e, forçosamente, a mais cara. Os peritos japoneses dividem-na em “kama toro”, uma pequena peça muito gorda e com aspecto marmoreado e em "toro" propriamente dito, dividido em três níveis, medium (chutoro), regular (toro), e supremo (otoro). O meu conhecimento de atum não vai tão longe que me permita dizer o que é, para um especialista japonês, a ventresca de Santa Catarina.
Terminemos com a culinária, a começar pelo atum fresco. Note-se a diferença terminológica. Vulgarmente, atum é o de conserva. Pelo menos em S. Miguel, o atum fresco é mais frequentemente chamado apenas de albacora. Apesar da importância da pesca do atum e da indústria conserveira (ou por causa disso), a culinária da albacora fresca não é muito variada. Quase que se limita a variantes do bife frito (não grelhado), com molhos diversos, de vilão, cebolada, tomatada, ou de vinha-d’alhos e assado no forno.
Já o atum de conserva tem largo uso na cozinha burguesa. Desde logo “à la minuta”, aberta a lata, passado o atum para o prato com batata cozida e ovo cozido, tudo regado com azeite e vinagre ou qualquer molho mais imaginativo, a gosto. Mas, de longe, a utilização mais vulgar é com salada russa e maionese, o que, no meu tempo e como cá, se chamava só maionese de atum (tal como se fazia também com peixe cozido, galinha e, em dia especial, com salmão de lata (caríssimo) e, mais especialmente ainda, com lagosta.
Na minha casa de criança havia ainda outras receitas de confecção frequente: bolo de atum, arroz frio com atum, moldado e revestido a maionese, salada de atum de cebolada, com batatas, etc. Também eu tenho muitas. Há dias, fiz uma salada simples e rápida, para a época, que, ao contrário das minhas regras, publico por irresistível necessidade de homenagear os pescadores de albacora da minha terra. Aqui vai a salada verde-rubra de atum.
Para duas pessoas em dieta. 1 lata de filetes de atum Santa Catarina em azeite, 1 curgete, 1 tomate grande, 1 maçã, 50 g de miolo de noz. Molho: 1 c. sopa de vinagre balsâmico, 1 c. sopa de mel, 1 pouco de massa de malagueta. Azeite, flor de sal, pimenta preta. Cortar a curgete em rodelas finas, sem descascar. Cortar o tomate em metades, esvaziar das pevides e cortar cada metade em rodelas finas. Alourar as rodelas de curgete em azeite, sem queimar, virando-as a meio. Temperar e reservar. Levar ao forno o tomate, regado com um pouco de azeite e temperado, até assar ligeiramente, sem amolecer demais. Deixar arrefecer e empratar ambas as coisas, lado a lado, em dois semi-círculos. Cobrir com a maçã aos cubos pequenos e as nozes partidas grosso. Por cima os filetes de atum, escorridos. Regar com o molho, preparado a cru.